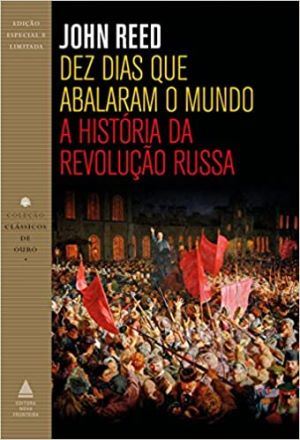Luiz Philippe Torelly (*) –
No hoje longínquo e lendário ano de 1968, Nelson Rockefeller, herdeiro de uma das mais ricas e predadoras famílias do mundo, veio ao Brasil em uma das clássicas visitas de “boa vizinhança” à ditadura militar. Os ventos da revolta já estavam assanhando corações e mentes. A guerra do Vietnã exibia a escalada de violência americana, despejando mais bombas do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Os estudantes franceses convulsionavam o país e traziam consigo os operários. Naqueles dias, dois livros caíram em minhas mãos: Meu amigo Che, de Ricardo Rojo, e O Manifesto Comunista, de Marx e Engels. A fracassada aventura do Che em terras bolivianas e a luta de classes atearam, literalmente, fogo em minhas ideias.
Dias antes da chegada do magnata americano, fui ao banheiro da escola e havia um pequeno cartaz com os seguintes dizeres: “Rockefeller vem aí. Pau nele!”. Nos dias seguintes, houve protestos e passeatas por todo o país. Nossa antes movimentada e algo feérica W3 era o palco das batalhas campais com a polícia. O ano de 1968, todos sabem como terminou: edição do AI-5, acirramento da ditadura, fechamento do Congresso, prisões, tortura e morte.
A curiosidade despertada pela leitura é um novelo inesgotável, um livro puxa o outro. Nessa fiada, vieram A origem da família, da propriedade privada e do estado, de Engels, e Eros e civilização, de Herbert Marcuse. O primeiro, para mim, à época, tal qual O Manifesto Comunista, explicava tudo. Era a chave para o entendimento do mundo. O segundo, uma mistura explosiva de sexo, psicanálise, filosofia e marxismo, abria portas até então lacradas para um “calango” de Brasília. Era o mundo da chamada contracultura.
A entrada na Universidade multiplicou as leituras e interesses. Mas já havia uma “picada aberta” por onde vieram As três fontes constitutivas do Marxismo, de Lênin, dissecando as principais influências do pensamento socialista: o socialismo utópico francês, que mais tarde pude estudar com detalhes nas aulas de Teoria da História da Arquitetura e do Urbanismo; a filosofia alemã, especialmente Hegel; e a economia política britânica de Ricardo e Adam Smith. O contrato social, de Rousseau, foi muito importante para um posicionamento na linha do tempo e para a percepção dos conflitos entre os direitos individuais e os coletivos e do quanto injusta era a nossa sociedade. Deu para ver também que o caminho era mais longo e conflituoso do que eu pensava.
Fui brevemente seduzido pelas ideias anarquistas, ao ler Anarquismo: roteiro da libertação social, de Edgard Leuenroth, tipógrafo revolucionário que liderou as primeiras greves proletárias no Brasil. Um dos maiores centros de documentação dos movimentos operários, localizado na Universidade de Campinas – Unicamp, leva seu nome em homenagem à sua dedicação e pioneirismo. Por esse tempo, também tive um flerte prolongado com o trotskismo. A história da Revolução Russa, uma monumental resenha crítica daqueles dias de outubro de 1917, narrada na terceira pessoa, tornou Leon Trotsky alvo da minha admiração permanente, revivida recentemente com a leitura de O homem que amava os cachorros, de Leonardo Padura. A descrição da tomada do Palácio de Inverno pelos revolucionários, depois retratada por Sergei Eisenstein, é inesquecível. Além disso, a “Libelu” – tendência trotskista do movimento estudantil nos anos 1970 – tinha festas ótimas, onde as socialistas eram mais bonitas. Rumo à Estação Finlândia, do crítico americano Edmund Wilson, embora demasiado objetiva e algo desapaixonada, é uma obra essencial para quem quer estudar a História do Socialismo. Rigorosa e bem construída, ajuda a entender afinal o que é materialismo histórico e materialismo dialético.
De Babeuf, revolucionário francês guilhotinado pelo Diretório, passando por Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Marx, finalmente chegando ao desembarque de Lênin em São Petersburgo e à Revolução Russa, a leitura desse livro foi fundamental para entender o encadeamento das ideias socialistas e como se chegou a 1917. Embora escrito no início dos anos 1940, também anunciou as origens da desagregação do socialismo “real” que ocorreria cinquenta anos depois.
Fecho esta crônica, escrita mais pela saudade do tempo em que fiz essas leituras do que qualquer outra coisa, com um dos livros mais emocionantes de todos os tempos: Os dez dias que abalaram o mundo. A epopeia do jornalista e revolucionário John Reed através da Rússia, até chegar ao epicentro da revolução comandada por Lênin, não é só uma grande obra de história e literatura, mas sobretudo uma aventura existencial e filosófica. Se tiverem que escolher um dos livros que citei para ler, escolham Os dez dias. Vocês não se arrependerão.
Caros leitores, não pensem que sou um revolucionário ou algo do gênero. Embora as ideias da juventude continuem vivas em um avô que já começou a “subir a montanha” à procura de uma visão panorâmica que ajude a entender a vida e o passar célere do tempo. Penso como Camus: “Feliz é quem foi jovem em sua juventude e feliz quem foi sábio (pretensão) em sua velhice”.
Confesso que tenho saudade de um tempo em que alguns faróis ideológicos nos eximiam da angústia das escolhas e eliminavam nossa perplexidade. Mas, ao mesmo tempo, me sinto desapegado para pensar a esmo e valorizar minha experiência. Parafraseando Ítalo Calvino, acho que trouxemos para o século XXI muitas coisas que deveríamos ter deixado no passado, a crença em um progresso perpétuo, consumo, guerra, preconceitos étnicos e religiosos, exclusão e pobreza.
_____________
(*) Luiz Philippe Torelly, autor de Os dez livros que abalaram o mundo. Drops, São Paulo, 2015.